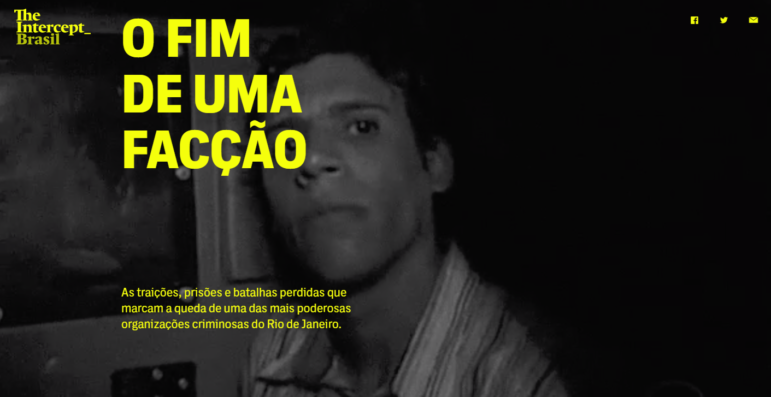
The Intercept Brasil recently published an investigation that traced the downfall of one of the most powerful drug gangs in Brazil.
Desde que o jornalista Glenn Greenwald ajudou a lançar o The Intercept cinco anos atrás, na esteira da sua série de reportagens sobre o caso Edward Snowden, o site tem crescido de forma rápida. Vários furos foram publicados nos Estados Unidos, muitos deles centrados nas agências americanas de inteligência. Mas uma consequência um pouco inesperada na época da criação do site nos EUA foi o lançamento de uma versão brasileira, o The Intercept Brasil, baseado no Rio de Janeiro, onde Greenwald vive desde 2005. Ele considerou que o Brasil, com toda sua turbulência política e desafios envolvendo os direitos humanos, seria um bom local para experimentar um braço do The Intercept fora dos Estados Unidos.
Quando foi lançado, em 2016, o The Intercept Brasil não teve dificuldade em atrair interesses da audiência brasileira, muito em função da popularidade de Greenwald no país, em particular entre o público mais à esquerda. No entanto, a operação ganhou mais musculatura quando o jornalista investigativo Leandro Demori foi colocado por Glenn no comando, no início de 2018. Demori, além de comandar o The Intercept Brasil, também é um dos diretores da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e já havia trabalhado anteriormente como editor do site da Piauí e como editor-chefe da operação brasileira do Medium.
Sob a gerência de Demori, o The Intercept Brasil se tornou um dos principais atores no cenário de jornalismo investigativo no Brasil. É raro passar uma semana sem que o site publique uma investigação de fôlego, expondo desde corrupção de agentes públicos a conflitos de interesse na indústria alimentícia ou violações de direitos humanos. Algumas das histórias são inclusive traduzidas para o inglês e publicadas no site principal do The Intercept.
Durante as eleições de outubro passado, o time do The Intercept Brasil fez uma campanha de crowdfunding muito bem sucedida, alcançando 135% da meta inicial de R$ 90 mil. Em dezembro, eles lançaram uma outra campanha, esta para doações recorrentes. Até meados de fevereiro, eles já asseguraram mais de R$ 51 mil em colaborações mensais, de mais de 1.900 leitores. O The Intercept Brasil também está crescendo rapidamente nas redes sociais: a página no Facebook tem mais de 353 mil curtidas, e não fica muito atrás dos 515 mil da versão americana do The Intercept. Eles também têm mais de 202 mil seguidores no Twitter e quase 100 mil no Instagram.
Nesta entrevista, Demori conta ao editor da GIJN em Português, Breno Costa, sobre como o The Intercept Brasil está tentando elevar o jornalismo investigativo no Brasil em um momento sensível na história do país. (Observação: Breno é um colaborador eventual do The Intercept Brasil como freelancer e trabalha para a GIJN como parte de uma parceria com a Abraji).
Qual tem sido o principal diferencial da cobertura do Intercept no Brasil?
A gente é como uma banda de punk rock. A imprensa em geral é mais como grandes big bands ou até orquestras sinfônicas. A gente está em mais ou menos 18 pessoas hoje, contando tudo: editores, repórteres, redes sociais, administrativo. Então não é muita gente. Isso acaba diferenciando também a maneira como a gente trabalha, porque a gente tem que escolher os assuntos que a gente quer embarcar, sabe? Isso faz com que a gente fique boa parte do tempo fora do hard news e que a gente acabe escolhendo os caminhos próprios nossos. Isso acaba dando uma diferenciada no Intercept. A gente navega no quente, no que está rolando agora, mas acaba achando outras histórias, colaterais, ou avançamos em histórias que ninguém foi atrás.

Photo: Ariel Zambelich/The Intercept
Leandro Demori, editor-executivo do The Intercept Brasil.
A equipe de vocês não tem jornalistas super experientes. São mais jovens, talvez sem tantas fontes como um repórter sênior teria. Como vocês driblam essa aparente desvantagem? Isso acaba virando uma vantagem por obrigar a explorar outros caminhos?
Na verdade, isso foi proposital. A gente montou a redação assim porque são profissionais que estão com mais gás, a fim de construir carreira. Não tem compromisso com fonte. A pessoa não tem uma relação de 20 anos com a fonte A, B e C. A gente sabe como funciona. Às vezes fica sabendo de uma coisa e não pode publicar porque, se não, nunca mais vai conseguir informação no lugar X ou Y. Então a gente não tem essa cultura de cultivar fonte nesse nível de não poder [desagradar]. A gente tem cuidado com fontes sensíveis. Mas essa quase promiscuidade que a gente vê, principalmente em Brasília, o Intercept passa muito longe disso. Foi proposital, para a gente conseguir pegar outros caminhos. A gente percebe que fontes mais novas constroem fontes de outras maneiras e também têm muita facilidade de trabalhar com fontes abertas, bancos de dados, tabelar coisas, pegar informação pública que está por aí e juntar A + B. Isso são coisas que a redação faz muito também por ser uma molecada.
Você acha que o The Intercept Brasil hoje pode ser considerado um site de jornalismo investigativo?
Acho que a gente faz muito jornalismo investigativo. Uma vez um repórter da The New Yorker, o Ryan Lizza, me contou que, depois de ter trabalhado o tempo todo no impresso, quando montaram o site, ele começou a fazer coisas para o site e tomou gosto. E ele me disse: “cara, de tudo o que eu faço, 70% para mais é para o site, e eu acho muito mais legal, porque é muito mais imediato, você acompanha a reação, é outra onda”. Ele redescobriu a carreira dele. E ele falou que, na New Yorker, eles fazem também o que eles chamam de ‘intelectual scoops’. A gente tem muito furo no Intercept, documental, de fonte, entrevista, mas a gente também trabalha com esses furos intelectuais. Às vezes está rolando um assunto X no dia e a gente quer alguém que possa dar uma visão diferente sobre aquilo, uma entrada original. Temos gente que escreve sobre religião, discriminação racial, questões econômicas. E isso é uma coisa que dá bastante audiência também.
Em relação ao The Intercept americano, quais são as diferenças?
É o mesmo site. A gente é quase como uma redação do Intercept no Brasil. Trabalha numa lógica de agência de notícias mesmo. A gente produz conteúdo em português também para mandar para fora. Tem um pouco da lógica da relação que existe com a Reuters, Associated Press… É um site cobrindo o Brasil para o mundo. Tanto é que a gente quer fazer mais parcerias com outros jornais, da África lusófona, Portugal, Argentina. A gente quer abrir. Mas, dentro das igualdades, o site americano é mais focado nessas redes de espionagem dos Estados Unidos, política local, e a gente tem mais uma pegada de direitos humanos, violência policial, questão política. A gente tem essa realidade brasileira que eles não têm lá.
A imagem global do The Intercept é muito associada ao Glenn Greenwald. Qual é o papel efetivo dele na experiência brasileira do site, nas definições estratégicas?
O Glenn, na verdade, é cofundador do site. Ele não é nem sócio do Intercept. O Intercept pertence à First Look Media. O Glenn, como fundador, é um cara que tem as pautas próprias dele, que navega muito no universo dele. Ele é como um repórter especial. Ele não tem ingerência no site, ele não edita o site de fato.
Na eleição, vocês tiveram essa experiência de crowdfunding e foi um passo muito importante para reforçar a questão do engajamento, estimular comunidade de leitores. Como tem sido essa experiência do engajamento em si? O quanto isso é importante para o modelo do Intercept?
O crowdfunding tinha dois objetivos. Um deles, óbvio, era grana. A gente tem um orçamento fixo por ano, suficiente para rodar o site, mas jornalismo custa caro e dinheiro a mais nunca é desperdiçado. Então a gente pensou em dar um gás, fizemos o crowdfunding e até nos arrependemos depois por não ter feito um crowdfunding maior. A gente conseguiu a grana muito rápido, a gente bateu a meta antes do tempo. Foi um negócio financeiramente de sucesso. A gente com certeza vai repetir. Por outro lado, tinha esse objetivo também de buscar mais a comunidade, conhecer mais a galera que lê a gente, que consome nossos vídeos, a galera que está mais em volta do site.
O que a gente mais fica feliz é em saber o perfil do público. Muita galera mais nova, que está recém entrando na faculdade, tem muita gente de colégio, secundarista. Toda vez que tem Enem, o pessoal escreve pra gente e diz que gabaritou porque leu nossa matéria. A gente preza muito essa galera, um pessoal fora da elite intelectual, fora da zona sul carioca. Tem muita gente da periferia, tem muita gente do interiorzão. É um público que a gente sempre quis ter como nosso público. É formar leitores de jornalismo, pegar uma galera que está com a cabeça em outro lugar, nova, que não está presa aos velhos cânones. Isso o crowdfunding aproximou. A gente fez um grupo fechado no Facebook. Isso foi muito massa pra gente.
As eleições desse ano foram bastante antecipadas, aguardadas com expectativa desde a crise do impeachment da Dilma. Era uma oportunidade única para apresentar aos leitores quem eram as novas caras da política brasileira pós-Lava Jato, os novos interesses predominantes… Nesse sentido, como você viu a prática de jornalismo investigativo pelos veículos tradicionais no Brasil?
A imprensa tradicional tem feito muito coisa boa ainda. Não sou do tipo que fica separando as duas coisas. A imprensa tradicional também é muito grande, né? Uma redação gigante, com mais de 150 pessoas, vai produzir coisa boa e coisa ruim. Teve muita coisa boa durante o ano. Mesmo matérias sobre o Bolsonaro. A Folha fez muita coisa boa. A Folha eu acho que foi o grande veículo de imprensa que brilhou nas matérias sobre o Bolsonaro [a entrevista foi feita em novembro]. Eles cobriram o cara. Acho que faltou muita coisa, principalmente a maneira como se olhava para ele. Demorou para levar a sério. Mas na hora que levou a sério foi fazer trabalho de imprensa, foi pra cima. Você quer ser presidente do Brasil? Então tá, a gente vai tentar descobrir quem você é. A gente tem o direito de fazer isso, como cidadão.
Acho que tem muita coisa que foi bem feita, mas, ao mesmo tempo, eu acho, é uma crítica que eu sempre faço, a imprensa brasileira ainda fala para predominantemente dois públicos: a elite intelectual e os próprios jornalistas. A gente cansa de ver matéria sendo feita pra colega. Uma matéria bonitinha, redondinha, sem aresta, que não incomoda ninguém, que ninguém vai se importar, mas que os colegas vão falar bem, vai ganhar uns prêmios. E pra elite intelectual, um linguajar muito complexo, muita palavra que dá para usar sinônimos mais simples, muita manchete enigmática, muito jornalismo declaratório, que não explica para as pessoas o que está rolando. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer como é que os outros têm que fazer o jornalismo deles, mas a gente tenta fazer tudo o contrário disso.

The Intercept Brasil revealed hidden real estate from the judge responsible for the conviction of powerful politics in the Car Wash operation.
Com Bolsonaro eleito e essa perspectiva de risco de colapso democrático, que diferença faz executar jornalismo, e mais especificamente jornalismo investigativo, num contexto de democracia plena e num contexto de governo com tendências autoritárias?
Eu morei na Itália durante alguns anos, e estava no auge do berlusconismo. Eu acho que as coisas vão se repetir aqui e, talvez, com um tom um pouco mais agressivo porque a gente não é um país europeu. A gente é um país muito incivilizado. As coisas saem do controle muito fácil. O Berlusconi usou os mesmos espantalhos do Bolsonaro. Eu acho até que esse nacionalismo populista que o Steve Bannon está chamando agora, essa nova onda, com Trump, Orban, parte disso começou com o Berlusconi. Ele elegeu três inimigos claros na Itália, na época: a imprensa, o comunismo e a Justiça. A Justiça era a “Justiça vermelha”, porque era a Justiça comunista, os juízes eram todos comunistas, os procuradores eram todos comunistas. A imprensa era comunista porque todo mundo era comunista. Todo mundo que era contra ele era isso. E todo o resto do espectro político da sociedade que não concordava com o que ele falava era comunista.
A retórica do Bolsonaro vai muito nesse sentido. Você escolhe um inimigo doméstico, imaginário, mas que as pessoas reconhecem como sendo a fonte do mal e você fica combatendo aquele moinho de vento durante quatro anos. Então, nisso, o que a gente acha que pode rolar é algum tipo de lawfare do governo. Usar leis, usar agências reguladoras e até fiscal para tentar espremer a imprensa, e também a imprensa internacional, e colocar a militância pra cima da imprensa de um modo violento, dizendo que a imprensa é uma fábrica de mentiras, que nada que se publica na imprensa é verdadeiro, que tudo o que a gente faz é visando o mal do país. Isso tem consequências que a gente ainda não consegue medir, mas a gente está bolando alguns planos de contenção para evitar violência física e digital contra os nossos jornalistas.
 Breno Costa é editor da GIJN em Português. Ele é fundador e chefe de Desenvolvimento Jornalístico do BRIO, um polo de serviços para jornalistas profissionais e estudantes no Brasil, com oferecimento de mentorias individuais e consultorias para projetos jornalísticos. Breno trabalhou como repórter investigativo na Folha de S.Paulo e já publicou como freelancer em veículos como o The Intercept Brasil.
Breno Costa é editor da GIJN em Português. Ele é fundador e chefe de Desenvolvimento Jornalístico do BRIO, um polo de serviços para jornalistas profissionais e estudantes no Brasil, com oferecimento de mentorias individuais e consultorias para projetos jornalísticos. Breno trabalhou como repórter investigativo na Folha de S.Paulo e já publicou como freelancer em veículos como o The Intercept Brasil.
